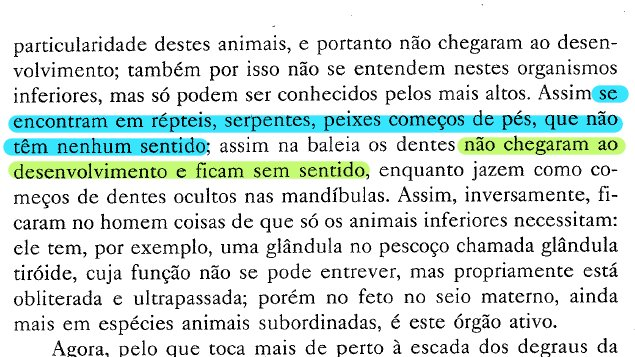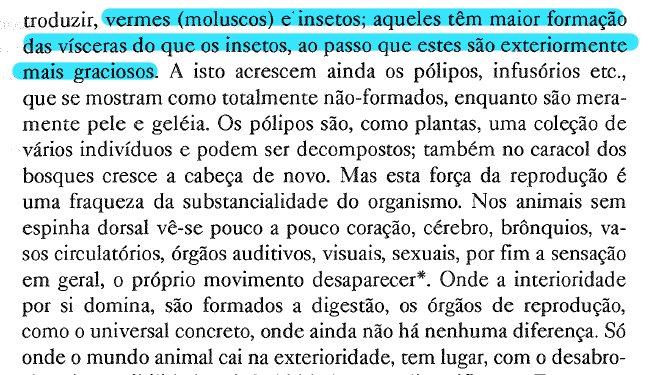Se Gilberto Freyre era naturalista?
Ora, evidente que não.
Esse negativa, evidente para qualquer um que tenha se demorado um pouquinho lendo os livros de Gilberto Freyre, poderia frustrar qualquer utilidade pretendida de uma obra que toma o autor desde essa perspectiva.
Tratar Gilberto Freyre é certamente uma falsificação da perspectiva, e qualquer um que desejar formar uma espécie de sistema freyreano deveria tomá-lo estritamente como ponto de partida. Há muitos caminhos para se seguir para a construção de um sistema, e o aqui seguido é certamente um deles, com possíveis vantagens e desvantagens que os seus críticos deverão discutir, eu espero, com bondade e imparcialidade.
Compreenderam, esses críticos benévolos, que esse é antes um ensaio sobre a obra de Gilberto Freyre, assim como é também um inventário para uma miríade de assuntos que não obstante a aparente desordem, perseguem a sistematicidade das velhas enciclopédias. Poderíamos dispor as partes dessa obra em ordem alfabética, mas pareceria ao leitor impaciente um excesso estético, uma presunção extravagante de nossa parte. Não que nos importássemos com a recepção desta obra: o que nos convenceu a redigi-la fora da ordem alfabética das enciclopédias é que isso revelaria o segredo de sua composição. E nenhum sistema pode ser verdadeiro se não reservar-se alguma parte de enigma.
O ensaio é certamente um gênero infeliz de ciência, já que não cessa de produzir em seu leitor a sensação de confusão. Não há qualquer pressuposição que a clareza seja um atributo da ciência verdadeira, mas há muitos séculos a filosofia vulgar produziu essa crença religiosa no conhecimento enquanto iluminação. Para essas mentalidades, é natural que o ensaio cause desprazer, já que leva o leitor por longos trechos de obscuridade.
Muito dessa obscuridade pode ser atribuída à estupidez e ignorância, e mesmo a falta de caráter, daquele que é seu autor, e não duvidamos que a crítica em algum momento incida nessa direção, depreciando o ensaio a partir do referente biográfico e moral do autor. A verdade, no entanto, é que o ensaio é uma forma de vida autônoma, diversa daquela entidade psico-física do autor. Não acreditamos que seja a escrita, o documento, a literatura, e toda a linguagem, a memória substancial de um sujeito, embora, certamente, estas sejam informações por ele produzidas, e que pela arte de nossa ciência foi aqui ordenado para o fim de alguma inteligibilidade.
O que se deseja conhecer, certamente, é o passado, mas o passado desde uma dimensão próprias da história dos conceitos, em que estes somente podem ser esclarecidos se pela experiência. Nosso livro, de certa maneira, é um Discurso do método, mas um Discurso do método perdido, ou que jamais chegou a ser escrito. É, em parte, uma rememoração da história de nossos próprios conceitos, que tem em vista encontrar as origens de nosso próprio pensar, que ainda é o pensar da antropologia, da psicologia, da sociologia, da história, da economia, da biologia, da física, da química, da semiótica, a da fisiologia, etc. Esperamos que revirando as raízes de nossos conceitos, poderemos acrescentar alguma coisa para o seu aperfeiçoamento.
Esse ensaio, portanto, é um Discurso do método, mas de um método para um conhecimento desconhecido, que nós, em nosso discursos, estamos apenas principiando a elaborar. Como tantas filosofias do futuro, essa história do passado tem em vista o que não foi escrito, mas que será. Se nosso ensaio denuncia a parcialidade com que nos aproximamos de nossos assuntos - por ex., a perspectiva de Gilberto Freyre enquanto antropólogo naturalista -, é preciso esclarecer que de qualquer posição é possível ver alguma coisa do autor. O que se tomou como fim, na verdade, foi menos o conhecimento de qualquer sistema Gilberto Freyre, mas um sistema abstrato, que haveria entre esse sistema e os sistemas-vizinhos: Sérgio Buarque de Hollanda, Caio Prado Júnior, Eduardo Prado, Oliveira Vianna, Oliveira Lima, Sylvio Romero, Arthur Ramos, Euclides da Cunha, etc. Como o leitor pode comprovar de nossas referências biográficas, o escopo de nosso trabalho é limitado a alguns nomes e obras, mas que trabalho consegue abarcar todo o universo? Para escrever a verdade é preciso aceitar o dever de menti-la. Uma verdade sobre Gilberto Freyre, ou sobre qualquer outro assunto, somente poderia existir por meio dessas representações parciais e fragmentárias que para muitos são as fraquezas do ensaio. Para os espíritos dessa estirpe, tudo que não seja rigor e objetividade deve ser excluído do sistema do conhecimento. Irão argumentar que são parâmetros de comunicabilidade, que o conhecimento precisa ao menos ser claro, e que ninguém pode ficar perdendo tempo lendo lixo.
Quanto à verdade, somos por ora reticentes. O que nos parece certo é haver todo um sistema moral para produzir, ao menos, os efeitos de verdade e mentira. Se desejam começar uma crítica do conhecimento, deveriam então principiar desde já a compreender como e porque vocês pensam que tais coisas são verdades. Montem todos os cavalos de guerra argumentativos, enviem todos os seus artigos com péssimas avaliações, etc. Ora, e não é afinal o conhecimento parte de uma política? Por que esperaria outro tratamento, se já sei de todas as armas que poderiam empregar contra mim?
Sabendo disso, me convenci de que os ímpetos mais vanguardista dessa historiografia deveriam ser refreadas, para o propósito de adequação aos preceitos do público, especialmente daquele da banca em que haveria de defendê-la como tese. O enquadramento em torno de Gilberto Freyre, assim, nasceu em parte dessa necessidade retórica de dispor o conhecimento em torno de um sujeito. Não que sejamos contra as monografias, apesar de sermos um pouco. O fato é que o biografismo atual nos desinteressa, e se adotamos a perspectiva que toma a história das ciências em torno de Gilberto Freyre, é simplesmente porque foi conveniente.
Essa obra é composta por uma série de ensaios que poderiam ser transformados em unidades isoladas, mas que quando dispostas em conjunto também formam um agregado coerente e sistemático. Que a obra possa estar organizada alfabeticamente ou de outras formas, sugere que seus componentes fornecem diferentes modos de uso. O leitor benéfico que nossa obra ansiosamente espera encontrar haverá de compreender que o princípio de leitura mais prazeroso é o aforístico, em que as unidades lógicas se desenvolvem em um intervalo curtíssimo de tempo. Por isso a importância da conceitualidade em nossa obra, que a muitos parecerá um cacareco intelectualóide sem sentido, mas que na verdade são parte de um saber que acontece em um ritmo muito breve. Schlegel afirma que o fragmento é um corpo perfeito e distinto, assim como o porco-espinho é distinto de outro animal. Assim também é o nosso ensaio, composto desde aforismos independentes, que depois foram convenientemente organizados para sugerirem uma unidade agradável aos críticos.
Por isso nossa obra parecerá a alguns como um verdadeiro cavalo de Tróia, em que por meio de um artifício fajuto, a mentira se introduz no reino da verdade. Os intelectuais-técnicos do empresariado, por exemplo, irão dizer que esse gênero de conhecimento não contribui para nenhum progresso técnico. Melhor seria se retirassem as verbas das ciências humanas, e exterminassem de uma vez todo o sistema em que se produz esse gênero de aborto do conhecimento. Não é preciso ser nenhum gênio para saber que os intelectuais-técnicos estão certos: sem as verbas das ciências humanas, esses saberes inúteis não seriam produzidos. E é exatamente isso que a classe empresarial deseja, já que esse gênero de escrito - como tantos outros - não se adequam aos propósitos tecnicistas e burocráticos da produtividade.
Essa obra somente pode ser o que é porque também é uma obra escrita contra esse saber técnico e capitalista. Somos reticentes a expressar posicionamentos, e isso talvez seja um mal de nossa época. Tomemos, no entanto, alguma responsabilidade política ao menos em nossa profissão. Isso é, apesar de tudo, um triste consolo para quem esperava a revolução. Adorno, esse revolucionário posto nos limites burocráticos do aparelho estatal, é o protótipo de muitos que hoje escrevem, desiludidos de seus métodos.
É certamente uma época infeliz essa nossa, e é impossível não escrever assim uma história infeliz. O leitor benéfico com certeza notou que muitos trechos adquirem a entonação quase humorísticas, e que algumas passagens são até mesmo irônicas, e certamente estranharão isso em trabalho científico, que deveria primar sobre a objetividade. Estamos aqui sobre o influxo da ciência natural de Schlegel e de Novalis (que ainda não lemos), e que somente concebem o saber enquanto forma divertida e engenhosa a que chamamos de chistes. O princípio chistoso da linguagem é aquela capacidade que ela tem de nos provocar afecções, e assim favorecer à produção do conhecimento no leitor. Kant teria dito que Hippel "seguia a máxima recomendável de que se deve temperar um prato saboroso da exposição humorística com o condimento da reflexão". (SCHLEGEL, Dialeto dos fragmentos, p. 27). A crença de que a verdade implica em seriedade é um pressuposto que não encontra antecedentes em largas partes do cânone nacional. É preciso remontar à gênese desse discurso da sisudez, para assim principiar a desvendar a fraude de sua universalidade. Remetendo à aparição desse discurso, Oswald de Andrade respondia às críticas de Antonio Candido (é uma conversa entre a elite do café paulistana que no curso de sua vida desviou-se politicamente, cada um a sua maneira, e que aqui não cabe explicar):
Segundo o sr. Antonio Candido, eu seria o inventor do sarcasmo pelo sarcasmo. [...] Porque a vigilante construção de minha crítica revisora nunca usou a maquilagem da sisudez nem o guarda-roupa da profundidade. O sr. Antonio Candido e com ele muita gente simples confunde sério com cacete. Basta propedeuticamente alinhar coisas que ninguém suporta, utilizar uma terminologia de in-fólio, para nessa terra, onde o bacharel de Cananéia é um símbolo fecundo, abrir-se em torno do novo Sumé a bocarra primitiva do homem das cavernas e o caminho florido das posições.
É já tempo para reabilitamos a bufonaria transcendental de que falava Schlegel em certo fragmento seu (p. 27). Como pensar em qualquer verdade se a própria filosofia, que se presume procurar o discurso da verdade e da justiça, é "a verdadeira pátria da ironia"? "Onde quer que se filosofe em conversas faladas ou escritas, e apenas não de todo sistematicamente, se deve obter e exigir ironia; e até os estóicos consideravam a urbanidade uma virtude. Também há, certamente, uma ironia retórica que, parcimoniosamente usada, produz notável efeito, sobretudo na polêmica; mas está para a sublime urbanidade da musa socrática, assim como a pompa do mais cintilante discurso artificial está para uma tragédia antiga em estilo elevado. Nesse aspecto, somente a poesia pode também se elevar à altura da filosofia, e não está fundada em passagens irônicas, como a retórica. Há poemas antigos e modernos que respiram, do início a ofim, no todo e nas partes, o divino sopro da ironia. Neles vive uma bufonaria realmente transcendental. No interior, a disposição que tudo supervisiona e se eleva infinitamente acima de todo condicionado, inclusive a própria arte, virtude ou genialidade; no exterior, na execução, a mímica de um bom bufão italiano comum". (pp. 26 - 27).
A conversa se opõe ao sistema, como notou Hume: "parece pouco natural apresentar um sistema sob forma de conversação". (p. 172) No entanto, esse trecho é extraído de um diálogo desse filósofo inglês, que demonstra como essa reflexão sobre os meios adequados para a verdade, se cogitava a estranheza de fazê-la sob os estigmas da conversação e oralidade, era porque não deixava de empregá-la como método filosófico. "Conversa falada e conversa escrita constituem, assim, para Schlegel, formas de exposição que fogem à cadeia lógico-dedutiva do sistema filosófico. Se, no primeiro caso, o diálogo socrático é naturalmente o modelo literário, a idéia de uma relação dialógica pela escrita é predominantemente moderna. As conversas de Jacobi e Lessing, reproduzidas nas Cartas a Moses Mendelssohn sobre a doutrina de Espinosa, podem ser consideradas os modelos mais imediatos de Schlegel, que em 1800 publicará na revista Athenaum a famosa Conversa sobre a poesia". (p. 172)
Em Sílvio Romero, a sisudez é relecionada à velha gravidade retórica dos salões literários e das tribunas políticas, antes concurso para agradar ao público e cortejar favores políticos do que construção de sistemas eficientes e imparciais. O caso de sua obra, assim, oferece um exemplo particular de chiste empregado contra o chiste, esse espírito químico e elétrico da linguagem que introduz no ouvinte uma determinada afecção. "Nossa república ainda não saiu do período do feiticismo dos nomes próprios", escrevia Sílvio Romero em artigo para a Cidade do rio (1 de maio de 1895), incapazes de compreender que "um homem não se prendesse a grupos, para poder ser justo com todos e independente diante de todos; que não quer por enquanto admitir que se possa falar bem de Deodoro da Fonseca; que se possa reconhecer em Floriano Peixoto a virtude da resistência sem que por isso tenha-se obrigação de desconhecer os grandes erros de seu governo [...]" (Obra filosófica, p. 254) Era necessário vir a público, e assim, documentar-se contra o discurso do inimigo. Porque na República Brasileira, o que contava era sobretudo o palavreado doce, capaz de enfeitiçar a audiência por meio das sensações provocada por elas: tratar-se-ia de um gênero de método hipnótico, que dirige-se antes ao inconsciente sensível do que à racionalidade estritamente conceitual e consciente. Na historiografia brasileira, é repetidamente associado a uma disposição portuguesa ou jesuítica: "essa tendência ao formalismo teria encontrado suas primeiras manifestações relevantes na Colônia, com o modelo educacional então adotado, como sugere Fernando Azevedo, para quem a educação, naquela época, estava intimamente relacionada à família, à Igreja e ao poder político-econômico". (O sorriso da sociedade, p. 134).
Ora, a despeito de como era a prática discursiva nos tempos da Colônia e do Império, é fato que, para os analistas, elas podem ser avaliadas desde o "fundo moralizante e pedagógico" que todo e qualquer discurso haveria de conservar para si. (Idem, p. 134) A "poesia retórica" era assim considerada sobretudo como um meio para mover e deleitar a audiência, tendo em vista uma finalidade (em teoria) prática. Esse déficit da república brasileira - pois isso era entendido como uma desvantagem - pois provocava um verdadeiro "prejuízo de mais vitaes energias" por meio daquela produção contínua da "sensualidade da frase". (Idem, p. 135). Essas são palavras de Graça Aranha, que certamente desejavam gerar alguma eletricidade no espírito do leitor do Atheneu Argentino, para quem escrevia em 1897. Tratava-se de uma crítica à inteligência brasileira, dessas que são comum de se encontrar entre nossa inteligência:
"Vivemos da forma. Para saboreá-lla melhor, separamo-la do pensamento, e com que delicia não contemplamos as transformações por que passou a frase antiga, simples, lapidaria, límpida, até chegar ao complicado período moderno, em que a palavra é feita de música, impregnada de pintura, e carregada de eletricidade". (Idem, p. 135)
Como escreve Márcio Suzuki, o fragmento deve ser compreendido como uma descoberta, ou ainda, uma "tentativa de solucionar problemas de natureza filosófica", que uma "filosofia estritamente técnica" não deixam de produzir. (p. 16) Um destes problemas é o evidente silenciamento sobre o fato das faculdades sensíveis e fisiológicas - rotineiramente caracterizadas como pré-lógicas e tomadas desde a perspectiva da produção de fantasias - são na verdade não somente condição, mas parte constituinte da faculdade do entendimento. Por isso a importância do chiste, essa corrente elétrica que corre do texto para o sujeito que lê, mas não para se instalar imediatamente em seu entendimento, e sim para estimular os seus sentidos de maneira diversa. O conceito de chiste, assim, busca recuperar alguma coisa do conhecimento enquanto esse acontecimento literal, isso é, como uma produção iniciada desde um processo físico que, no sujeito, irá desencadear o processo do pensamento. O chiste representa a capacidade de um discurso afetar o leitor, coisa que somente seria possível se seu conhecimento estivesse em uma economia moral, em que determinadas ideias e conceitos, palavras e modos de dizer, são percebidas não de um ponto de vista da razão pura, mas sim desde uma série de valores que separam a priori o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o digno de ser lido atentamente, e o texto que se passa o olho correndo, etc.
Outra vantagem do chiste, é que no tempo do discurso enquanto consumo, se responde ao suposto déficit cognitivo de uma época, incapaz de se atentar aos discursos sapientes do passado, desde a perspectiva de que é justamente essa desagregação histórica da compreensão que torna o chiste uma necessidade pedagógica ou ainda, propedêutica, que deve introduzir o leitor no saber desde a região sentimental. É somente tomando a dimensão do saber como um acontecimento produtivo, em que o verbo e as palavras interagem com um organismo sensível, que pode-se compreender a necessidade dos discursos "Um achado chistoso é uma desagregação de elementos espirituais, que, portanto, tinham de estar intimamente misturados antes da súbita separação. A imaginação tem de estar primeiro provida, ate a saturação, de toda espécie de vida, ara que possa chegar o tempo de a eletrizar de tal modo pela fricção de livre sociabilidade, que a excitação do mais leve contato amigo ou inimigo possa lhe arrancar faíscas fulgurantes e raios luminosos ou choques estridentes". (p. 24 - 25).
A necessidade de reaproximação entre os saberes da poesia e da literatura com os da filosofia era defendida, no tempo de Schlegel, como o estudo de uma arte capaz de produzir, pelo meio escrito, os efeitos luminosos e elétricos que a palavra oral parecia provocar no ânimo dos sujeitos. O velhos e infames discursos da tribuna e dos salões, que se improvisavam por meio de explícitos mecanismos retóricos, pode ser tomado a partir dessa particularidade de ser explicitamente dedicado à uma audiência, já que são empregados não para o fim da leitura silenciosa e solitária do escriturário moderno, mas sim para práticas discursivas destinadas à performances orais, diante de um público que estava fisicamente presente. Quando lemos um discurso de Sílvio Romero encontramos diversos registros que remetem a essa presença do auditório. Em "Que é um caipira", trata-se de uma carta, escrita para o Dr. José Piza. Perceba que Sílvio Romero se refere a um "você", esse doutor da ática fluminense, se colocando em uma irônica posição de baixeza e submissão: "Antes de mais nada, não atino com o fim, nem lhe gabo o gosto, de misturar com seus dizeres pilhéricos, com seu prosear chistoso, as rudezas da minha frase de escritor provinciano, impenitente sectário da Escola de Recife, incorrigível no trajo, nas maneiras e nas idéias". (p. 196) É evidente que a pompa e humildade que o emissor empregada em seu discurso é um exagero que visa, na verdade, ridicularizar o interlocutor, por quem Sílvio Romero nutria inimizade. Examinemos um pouco mais da carte, que deveria ser lida em voz alta pelo próprio José Piza, diante de ampla audiência, o que certamente haveria de provocar verdadeiras risadas. Sílvio Romero escreve um ensaio sobre o que seria afinal o caipira, e depois de descartar a possibilidade de se referir a sujeitos de uma única zona geográfica, ou de uma única raça, ou ainda, uma atribuição profissional, ou mesmo algum tipo de patologia degenerativa. Caipira, explica Romero, assim como matuto, tabaréu, mandioca, capixaba, "são expressões de monosprezo, de debique, atiradas pelas gentes das povoações, vilas, aldeias, e até arraias, contra os habitantes do campo, do mato, da roça. São a expressão dum antagonismo secular. São chufas dos desfrutadores de empregos, profissões, ofícios e outros variados meios de vida, que a habilidade de certas populações faz nascer nas grandes aglomerações de gente, especialmente contra os que mourejam nas rudes tarefas dos amanho das terras, do cultivo dos campos, os homens do povo, que são os operários rurais". (p. 195)
Se é verdade que José Piza lia aquela "palavra selvagem" de Sílvio Romero com seus "lábios de exímio diseur", o que se conseguiu foi uma singular encenação discursiva, em que a voz e cadência educada desse Dr. José Piza, a quem nos parece ser um bacharel palavroso que Sílvio Romero não cansa de debochar em seus escritos. É assim que, em um discurso pronunciado aos 31 de maio de 1908, Sílvio Romero se dirigia a sua audiência de bacharéis:
"Meus senhores:
Almas vesgas, esterilizadas pelo ódio e pelo egoísmo; espíritos fechados a quaisquer solicitações do bem, do amor, do devotamento a causas nobres; caracteres comburidos por paixões mesquinhas, sem o menor surto para os lados do ideal, hão de perguntar, no alvoroto febril dos amaldiçoadores de profissão, como é possível que eu me apresente hoje, [...]" (p. 197)
Sílvio Romero ressalta a "independência de sua crítica", e certamente ela somente poderia ser levada em consideração como parte de uma retoricidade da independência, firmada a partir da sinceridade da injúria àqueles que seriam os poderosos. Seu discurso comete a imprudência de degradar os "detentores do poder"). (p. 197)
Se era verdadeiro ou não o risco que os discursos de Sílvio Romero dão a entender - é um discurso paranóico, que parece sempre prestes a ser censurado e difamado por inimigos e conspiradores. Antes de mais nada, Sílvio Romero parece precisar defender a própria reputação, demonstrar a justeza de suas condutas e como estas estavam perfeitamente de acordo com suas ideias. Era preciso não somente ser correto, mas também defender, diante do público que julga, a correnteza de suas condutas.
É que Sílvio Romero somente pode escrever desde essa posição de quem luta uma guerra não restrita aos princípios racionais e críticos que deveria caracterizar o pensamento rigoroso e sistemático. Essa divisão entre um discurso da amizade e um discurso da inimizade parece-nos tocar em uma tópica algumas vezes negligenciadas à respeito da dimensão moral e passional das práticas intelectuais. O próprio Sílvio Romero não deixa de recusar que deva-se existir um espaço discursivo destinado ao jogo limpo, que prescindem dos artífices exigidos quando diante das tribunas inimigas. O discurso precisa sempre preparar-se para abrir-se a pelo menos esses dois registros discursivos: daqueles que irão aplaudir e aclamar nosso discurso, e aqueles outros que, ao contrário, se encherão de ímpetos de discursar vaias e palavras duras. É assim necessário, mesmo ao saber mais puro e verdadeiro, que possa proteger-se contra esses inevitáveis inimigos, que se animam com sentimentos maus tão logo as palavras ferem sua sensibilidade. Esse emprego insistente que alguns autores fazem de sua correspondência pessoal pode ser visto desde essa perspectiva de proteger a própria reputação por meio de um discurso de autoridade, ou ainda, simplesmente, de um testemunho de outrem favorável à pessoa que fala. Sílvio Romero, por exemplo, encerrará certo prefácio com as palavras de um certo Srs. Samuel de Oliveira e Liberato Bittencourt, escrita em 25 de junho de 1894, em que os emissores adulam agradavelmente a pessoa de Romero: enviavam a ele uma edição de Geometria Algébrica, um presente de agradecimento a Romero. "Assim procedendo, andamos de perfeito acordo com as nossas consciências, admiradores que somos de vosso belo talento, de vossa variada e sólida ilustração e, mais do que tudo, dessa honrada altivez que tanto vos nobilita e vos distingue entre os nossos homens de letra em geral. Por outro lado, tanto hemos aprendido nos vossos livros, cheios de saber e de patriotismo, que a oferta que vos fizemos, temo-la por conta do cumprimento de um dever". (p. 261)
Que não saibamos quem são esses tais Samuel e Liberato - que aparentemente eram jovens escritores procurando a aprovação de Romero -, talvez denote como a estratégia de empregá-los como autoridade pode não resistir aos rigores do tempo; hoje, positivamente, ninguém atribui a Samuel e Liberato qualquer reputação; no entanto, mesmo assim é possível encontrar alguma forma com que suas palavras podem afetar a audiência, e predispô-la a ouvir o discurso de Sílvio Romero desde a perspectiva de um rígido e sapiente professor, muito admirado por seus alunos. Essa certamente seria uma maneira que agradaria a Sílvio Romero de ser lembrado, e não parece casual que tenha encerrado seu prólogo com essas palavras benevolentes. Tratariam de causar uma boa impressão no leitor.
Se Sílvio Romero ironizava aos dizeres pilhéricos e ao prosear chistoso daquele Dr. José Piza, a verdade é que no entanto não se furtava ele mesmo de fabricar seus discursos enquanto dispositivos pilhéricos e chistosos, destinados a provocar reações fisiológicas e comportamentais variadas em seus ouvintes. A efetividade de suas palavras sobre os ânimos da audiência fica explicitada quando o texto transcreve, junto do discurso, a reação da audiência que lhe ouve. Assim, quando Romero recorda a própria história, monumentaliza a própria história, mas não por meio da gravidade característica das estátuas dramáticas (esse seria o estilo às vezes caricatural de Euclides da Cunha), mas sim por meio de uma verdadeira arte do insulto, que relembra, por meio de chistes, como Romero havia humilhado e derrotado seus adversários intelectuais nos duelos que travaram publicamente, em jornais, para que todos pudessem ver: "Há já cerca de quarenta anos sacudi para longe as ridículas injunções de todos os Veríssimos existentes e por existir (gargalhadas...)". (p. 198). Esse chiste Romero é ainda singularmente eficaz, e talvez seja até mesmo mais poderoso, tendo em vista a profícua árvore genealógica dos Veríssimos. A seguinte pilhéria, dedicada a Pinheiros, é construída pelo mesmo mote anterior, e coroa a trajetória política de Romero com a derrota de toda a árvore genealógica dos Pinheiros, existentes e por existir: "De certo tempo a esta parte resolvi em política atirar no sorvedouro das coisas inúteis, imprestáveis, e quase sempre maléficas, as medonhas cataduras de todos os Pinheiros havidos e por haver...". E a plateia, morria de rir: "(risos)."(p. 198)
O carisma pessoal, a capacidade de improvisação e o anti-convencionalismo, em parte, entraram em decadência, quando os meios personalistas de produção de ideias foram suplantados pelo aparelho burocrático das universidades e seu registro abstrato e impessoal de ciência. Haveria, ainda, de considerar a transformação da linguagem jornalística, que se inclinou a uma retórica da imparcialidade e da objetividade pura, em que se rejeitava qualquer politicidade enquanto indício de conlui com alguma das partes. Embora o jornalismo pressupunha o debate público, sua única maneira de participar dele é pela simulação de que nele não toma posição, e para isso, certamente, contribui as argúcias formais que os mais variados técnicos da informação empregam para escrever.
Os gêneros de performance vocal, e mesmo corporal, que dispõe um falante diante de uma platéia a ouvi-lo, certamente ainda existe, e na verdade é um verdadeiro pilar da indústria de espetáculos, com podcasts, programas de auditório, blogs em vídeo, etc. O que parece ter ocorrido foi, no plano científico, a produção de uma consciência avessa ao fundamento dialógico que haveria em seu discurso. Alguns gêneros, como os acimas citados, mas também os estritamente literários, como as correspondências, certas crônicas ou ensaios jornalísticos em que o escritor se refere diretamente ao seu público, e ainda, muito especialmente, o gênero socrático do diálogo filosófico, em que os sistemas são preteridos por essa exposição dialética e gradual, em que muitos ouvintes se envolvem com o fim de chegar à verdade, representam explicitamente a linguagem enquanto uma produção entre diferentes partes.
Por isso que, à despeito de qualquer crítica contra a seriedade, é necessário concluir essa introdução reiterando uma nota já acertada a certa altura passada do ensaio: nada mais elevado do que a bufonaria, nada mais gracioso que o fragmento, nada mais filosófico que a poesia.
Comecei protestando sobre a confusão que se faz entre a seriedade do espírito humano e, por exemplo, a sisudez de uma sessão acadêmica, com suas ratazanas fardadas e a coleção de suas carecas de louça. Ao contrário disso nada mais sério que o blague de Voltaire ou de Ilya Ehrenburg, a fantasia de Joyce e o suspeito moralismo de Proust. (p. 34)